Carlos Castro (de violão), Arnaldo Garcez, Zemaria Pinto, Jackson Chaves, eu, Inácio Oliveira, Orlando Carioca e Antonio Paulo Graça (de óculos e chapéu estiloso, em primeiro plano), durante uma cachaçada no Bar do Armando
No verão de 1998, o rapper Puff Daddy lançou uma música onde usava uma base do grupo musical Police e uma letra emocionante, riscada em cima da batida, numa tentativa desesperada de homenagear seu mano Notorious B.I.G., assassinado em março de 97.
A música, “I’ll Be Missing You”, nos bate no coração na hora em que entra um coro feminino (com Faith Evans, viúva de Notorious, na voz principal) ensinando o bê-á-bá da bem-querência eterna: “Every step I take/ Every move I make/ Every single day/ Every time I pray/ I’ll be missing you/ Thinking of the day/ When you went away/ What a life to take/ What a bond to break/ I’ll be missing you”.
Mal traduzida, essa parte da letra diz o seguinte: “Todo passo que dou/ Cada movimento que faço/ Todo maldito dia/ Toda vez que rezo/ Eu vou sentir sua falta/ Fico pensando no dia/ Quando você foi embora/ Que vida para ser roubada/ Que laço para ser partido/ Eu vou sentir sua falta”.
Essa “apelação” foi só pra dizer que nós, que já somos tão pobres culturalmente, ainda levamos uma porrada na cabeça, que foi perder o escritor Antonio Paulo Graça no dia 9 de junho de 1998. A letra do Puffy Daddy explica tudo o que sinto em relação a ele.
Paulo Graça tinha gênio. Só posso pensar em dois outros sujeitos mais velhos do que eu de quem diria isso: Luiz Bacellar e Thiago de Mello.
Éramos, eu e Paulo, muito mais do que amigos, talvez meio-irmãos, e devo partilhar a culpa de muitos outros amigos que sentiram a tentação de “adotar” Paulo Graça, porque perceberam que ele estava se autodestruindo, mas que fizeram muito pouco para transformar a intenção em gesto.
O gênio de Paulo Graça, ou Paulinho, como a gente o chamava nas internas, era uma assinatura primorosa que aparecia em tudo, em artigos para jornais, ensaios literários, críticas de livros, peças de teatro, romances, composições musicais, poemas, cartas pessoais, o diabo a quatro.
Nunca conheci ninguém que dominasse com maestria tantas linguagens culturais distintas e que fosse, ao mesmo tempo, tão pródigo em dividir esse conhecimento com os outros.
Paulinho não temia a sombra de ninguém porque, simplesmente, ninguém lhe fazia sombra. Conheci-o pessoalmente por intermédio do jornalista Inácio Oliveira.
Em 1985, o jornal A Crítica lançou um suplemento cultural chamado “Caderno C”. Eu havia sido convidado pelo Mário Adolfo, que trabalhava no jornal, para ser um dos colaboradores, mas estava sem assunto.
Preferi esperar o bicho sair para ver a linha editorial, que, para minha surpresa, mostrou-se bastante pluralista. O subeditor do suplemento era o poeta Aldisio Filgueiras, simplesmente uma garantia de qualidade em tudo onde coloca as mãos.
No número de estreia do “Caderno C”, Paulinho publicou um artigo intitulado “A Lira Marginal”, falando, claro, sobre a “poesia marginal”, que vinha agitando o Brasil desde os anos 70. Usei o texto dele como gancho e escrevi um artigo corrigindo algumas informações que ele escrevera.
Na época, eu me correspondia com a maioria dos autores por ele citado (Chacal, Nicolas Behr, Leila Miccolis, Cacaso, Glauco Mattoso, Ulisses Tavares, Marcelo Dolabela etc.). Paulinho gostou do que escrevi e pediu ao Inácio Oliveira que nos apresentasse.
Nos encontramos no Bar Galvez, ali no canto da avenida Major Gabriel com a rua Ipixuna, e ficamos amigos na mesma hora. Passamos a noite enchendo a caveira de birita e conversando sobre literatura marginal, geração beat, dadaísmo, socialismo, política cultural, física quântica, metempsicose e religiões orientais.
Naquela noite, lhe dei de presente um exemplar do Porandubas, meu livro de poesia lançado em 84. As vendas do livro haviam ajudado a fundar a CUT estadual. O sindicalista Jaques Castro, que trabalhara arduamente na organização do evento, foi eleito o 1.º presidente da entidade.
No dia 31 de março de 1985, Paulo Graça escreveu uma resenha simpática sobre o livro no Suplemento Literário do Jornal do Comércio, intitulada “O poeta em pessoa”, que transcrevo a seguir:
Aprendemos com Octavio Paz que a criação poética se inicia como violência sobre a linguagem. E aprendemos, por conta própria, que culturas periféricas e colonizadas como a nossa acabam emasculando aquela violência e parindo apenas burocráticos diluidores da rebeldia criativa. Por isso, sempre nos surpreendemos com a descoberta de livros como o Porandubas, de Simão Pessoa. Nele, a lírica recupera e mesmo dramatiza seu impulso de rebeldia e oposição ao marasmo social que anestesia as consciências humanas.
A história da poesia amazonense asssemelha-se muito a um velho álbum de fotografias bolorentas. Torna-se um problema insolúvel enfileirar nessa galeria sonâmbula qualquer poeta mais inquieto. Aliás, os ébrios guardiões do templo poético da city estão sempre atentos para, num segundo, desenharem um círculo de silêncio em volta de qualquer artista que carregue na veia uma única gota de sangue. Foi o que aconteceu com Aldisio Filgueiras, com Narciso Lobo, talvez entre outros.
Porém foi o que aconteceu mais dramaticamente ainda com Simão Pessoa. Confesso que jamais ouvira falar de Porandubas, o próprio termo indígena, que significa notícia, aprendi-o em Sérgio Augusto. Mas como me impressionaram essas notícias poéticas, polêmicas e patéticas. Além de afirmar a contemporaneidade da nossa poesia, com um gesto rude ou com um grito selvagem, a pessoa do poeta mostra que as ideias são possíveis a 40º à sombra.
Pois não se espantem: o fato de Malarmé ter demonstrado a Degas que poesia não se faz com ideias, mas com palavras, tem servido de desculpa para alguns equivocados cometerem poemas no vazio absoluto. Ora, poesia se faz com palavras, mas também com ideias assentadas sobre seu próprio mundo e sobre o mundo da poesia. Simão Pessoa sabe disso. Não aceita tudo, com a ânsia do provinciano que pretende exibir falsa cultura. Tem coragem de riscar do mapa o cerebrino Mário de Andrade e soube, num salto tigrino (a expressão é de Benjamin), fazer a conexão entre uma consciência da problemática social e a técnica higiênica do poema concreto.
Quando tange sua lira em elegias à floresta agonizante, Simão Pessoa adota aquela poética dos concretistas, ensinado-nos que não pretende fazer discursos retóricos, mas poemas de uma essencialidade como o osso, crus e selvagens. É como se o poeta violentasse essa tradição bacharelesca de nossa poética que consegue dizer tudo, menos o que interessa e o que deseja dizer.
Há um personagem que passeia por quase todas as páginas do minúsculo livro de Simão, é o “ennui”, o tédio de Charles Baudelaire. Mas seu tédio não é transcendental, pois ele sabe “que só é possível filosofar em alemão”, seu tédio é uma denúncia contra o vazio dessa existenciazinha que se abate sobre uma comunidade que, por já ter perdido e renegado sua própria identidade, sabe-se incapaz de reagir contra o golpe dos alienígenas.
As Porandubas Poéticas, primeira parte do livro, revelam-se uma tentativa de atualização poética. O poeta, exibindo invejável mestria no uso da musicalidade canônica do verso e da plasticidade imagética, nos dá a notícia da defasagem daquela modorrenta temática do “âmago telúrico”, histeria ainda vigente em certas igrejas decadentes.
Vencido o desafio contra o descompasso temporal, Simão Pessoa parte para uma briga contra os cacoetes parnasianos que neurotizam uma certa poesia. Cria as Porandubas Polêmicas, onde já não se preocupa em mostrar que domina a técnica, inventa e desinventa, elimina alguns recursos tradicionais e mistura prosa e poesia, atualizando aquele dito de Schwitters segundo o qual, sendo um poeta, tudo o que produz é poesia, mesmo a prosa. Em seguida vem as Porandubas Patéticas, seção dedicada mais claramente ao combate social. Aqui o poeta não pretende apenas dar demonstrações do poder das palavras, mas, sobretudo, lançar uma palavra contra o poder.
Pescar exemplos de criatividade e da poeticidade de Porandubas é inútil e perigoso, quase todo o livro é brilhante, pois Simão Pessoa vive e convive com a poesia, sabe que não basta, num grande livro, um ou outro exemplar de inventividade e originalidade. Aliás, originalidade é um outro traço que distingue o autor em questão. Nessa história de imitação e diluição, o poeta em Pessoa até nos agride com tamanha independência: não imita ninguém, não pretende ser ninguém, senão a Pessoa do poeta.
Para Walter Benjamin, “sempre foi uma das tarefas essenciais da arte suscitar determinadas indagações num tempo ainda não maduro para que recebesse plena resposta”. Taí a explicação da incompreensão com que se olha o poeta Simão Pessoa.
Evidentemente, o artigo do Antonio Paulo Graça me deixou de ego inflado. Tinha sido a primeira vez que alguém se debruçara com seriedade sobre o meu trabalho e fazia uma crítica interessante.
Até então, apesar de já ter publicado seis livros de poesia e distribuído de mão em mão cerca de cinco mil exemplares, eu era mais conhecido no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte do que aqui em Manaus. Nunca mais paramos de nos encontrar nos botecos para falar sobre as mesmas coisas.
Isaac Maciel, Paulinho, eu e Kádia Eneida durante uma cachaçada no Espaço Cultural Valer. De costas e de “rabo de cavalo”, o psiquiatra Rogelio Casado
O que aconteceu com Antonio Paulo Graça? Bem, há o público e o privado. Depois de concluir com êxito um mestrado e um doutorado em Literatura na UFRJ, publicar três livros (A razão selvagem, Catedral da impureza e Tango selvagem), deixar outros três prontos (Como funciona a poesia, Uma poética do genocídio e Manual de Literatura do Amazonas), escrever regularmente no Jornal do Brasil e n’O Globo e voltar a ser professor da Universidade do Amazonas, Paulinho era tratado com desprezo aqui na província. Achavam arrogância onde havia apenas discernimento.
Houve outros agravantes. Mesmo trabalhando como um mouro, Paulinho continuava sofrendo penosamente com uma permanente crise financeira. Ele nunca conseguiu assimilar como era possível um intelectual do seu porte enfrentar tão dura batalha pela sobrevivência enquanto semianalfabetos de todos os quadrantes viviam num fausto de verdadeiros marajás.
Paulinho buscava o mínimo, que é viver com dignidade à custa do próprio talento, mas até isso lhe foi negado.
Percebendo que jamais seria como os outros (o puxa-saquismo e a subserviência nunca fizeram parte do seu código de conduta), ele preferiu tirar o time de campo.
Em outras palavras, Paulinho optou, mais ou menos, pelo suicídio consciente, por meio da ingestão diária de álcool em quantidade industrial. Ele não conseguia mais se enquadrar dentro de um mundo em que o poder econômico dita as regras do jogo e que, em última análise, não tolera a insubmissão. Como também sofro isso na pele, sei exatamente pelo que ele passou e penou.
Difícil esquecer aquele homenzinho de voz rascante, óculos grandes com grossas lentes, um andar meio saltitante, a risada explodindo numa frase de efeito, um olhar inquieto e um ar de criança abandonada que inspirava sentimentos maternais permanentes no mulherio presente nas mesas de bar.
Quando sóbrio, era um veludo. Após alguns goles, podia atirar espinhos a torto e a direito. Com os amigos, ficava intolerante. Com os inimigos, ficava intolerável.
Tantos anos depois e a hora ainda é realmente de chorar pela brutalidade dessa ladroagem ilimitada que apressou a morte de Paulinho. E lamentar pela ausência do amigo leal e sempre solidário.
Sem contar essa imensa dor de nunca mais ouvir aquela voz insistente, sempre indagando, criticando, criando, produzindo, nos afagando a imaginação, nos excitando o intelecto e nos fazendo acreditar em um mundo melhor.
O nosso provincianismo ficou mais pobre e triste, quando eu pensava que nada mais era possível. Tudo é possível. Até que tenhamos tido um gênio raro como o de Antonio Paulo Graça e zelado tão mal por esse patrimônio.
No verão de 1998, o rapper Puff Daddy lançou uma música onde usava uma base do grupo musical Police e uma letra emocionante, riscada em cima da batida, numa tentativa desesperada de homenagear seu mano Notorious B.I.G., assassinado em março de 97.
A música, “I’ll Be Missing You”, nos bate no coração na hora em que entra um coro feminino (com Faith Evans, viúva de Notorious, na voz principal) ensinando o bê-á-bá da bem-querência eterna: “Every step I take/ Every move I make/ Every single day/ Every time I pray/ I’ll be missing you/ Thinking of the day/ When you went away/ What a life to take/ What a bond to break/ I’ll be missing you”.
Mal traduzida, essa parte da letra diz o seguinte: “Todo passo que dou/ Cada movimento que faço/ Todo maldito dia/ Toda vez que rezo/ Eu vou sentir sua falta/ Fico pensando no dia/ Quando você foi embora/ Que vida para ser roubada/ Que laço para ser partido/ Eu vou sentir sua falta”.
Essa “apelação” foi só pra dizer que nós, que já somos tão pobres culturalmente, ainda levamos uma porrada na cabeça, que foi perder o escritor Antonio Paulo Graça no dia 9 de junho de 1998. A letra do Puffy Daddy explica tudo o que sinto em relação a ele.
Paulo Graça tinha gênio. Só posso pensar em dois outros sujeitos mais velhos do que eu de quem diria isso: Luiz Bacellar e Thiago de Mello.
Éramos, eu e Paulo, muito mais do que amigos, talvez meio-irmãos, e devo partilhar a culpa de muitos outros amigos que sentiram a tentação de “adotar” Paulo Graça, porque perceberam que ele estava se autodestruindo, mas que fizeram muito pouco para transformar a intenção em gesto.
O gênio de Paulo Graça, ou Paulinho, como a gente o chamava nas internas, era uma assinatura primorosa que aparecia em tudo, em artigos para jornais, ensaios literários, críticas de livros, peças de teatro, romances, composições musicais, poemas, cartas pessoais, o diabo a quatro.
Nunca conheci ninguém que dominasse com maestria tantas linguagens culturais distintas e que fosse, ao mesmo tempo, tão pródigo em dividir esse conhecimento com os outros.
Paulinho não temia a sombra de ninguém porque, simplesmente, ninguém lhe fazia sombra. Conheci-o pessoalmente por intermédio do jornalista Inácio Oliveira.
Em 1985, o jornal A Crítica lançou um suplemento cultural chamado “Caderno C”. Eu havia sido convidado pelo Mário Adolfo, que trabalhava no jornal, para ser um dos colaboradores, mas estava sem assunto.
Preferi esperar o bicho sair para ver a linha editorial, que, para minha surpresa, mostrou-se bastante pluralista. O subeditor do suplemento era o poeta Aldisio Filgueiras, simplesmente uma garantia de qualidade em tudo onde coloca as mãos.
No número de estreia do “Caderno C”, Paulinho publicou um artigo intitulado “A Lira Marginal”, falando, claro, sobre a “poesia marginal”, que vinha agitando o Brasil desde os anos 70. Usei o texto dele como gancho e escrevi um artigo corrigindo algumas informações que ele escrevera.
Na época, eu me correspondia com a maioria dos autores por ele citado (Chacal, Nicolas Behr, Leila Miccolis, Cacaso, Glauco Mattoso, Ulisses Tavares, Marcelo Dolabela etc.). Paulinho gostou do que escrevi e pediu ao Inácio Oliveira que nos apresentasse.
Nos encontramos no Bar Galvez, ali no canto da avenida Major Gabriel com a rua Ipixuna, e ficamos amigos na mesma hora. Passamos a noite enchendo a caveira de birita e conversando sobre literatura marginal, geração beat, dadaísmo, socialismo, política cultural, física quântica, metempsicose e religiões orientais.
Naquela noite, lhe dei de presente um exemplar do Porandubas, meu livro de poesia lançado em 84. As vendas do livro haviam ajudado a fundar a CUT estadual. O sindicalista Jaques Castro, que trabalhara arduamente na organização do evento, foi eleito o 1.º presidente da entidade.
No dia 31 de março de 1985, Paulo Graça escreveu uma resenha simpática sobre o livro no Suplemento Literário do Jornal do Comércio, intitulada “O poeta em pessoa”, que transcrevo a seguir:
Aprendemos com Octavio Paz que a criação poética se inicia como violência sobre a linguagem. E aprendemos, por conta própria, que culturas periféricas e colonizadas como a nossa acabam emasculando aquela violência e parindo apenas burocráticos diluidores da rebeldia criativa. Por isso, sempre nos surpreendemos com a descoberta de livros como o Porandubas, de Simão Pessoa. Nele, a lírica recupera e mesmo dramatiza seu impulso de rebeldia e oposição ao marasmo social que anestesia as consciências humanas.
A história da poesia amazonense asssemelha-se muito a um velho álbum de fotografias bolorentas. Torna-se um problema insolúvel enfileirar nessa galeria sonâmbula qualquer poeta mais inquieto. Aliás, os ébrios guardiões do templo poético da city estão sempre atentos para, num segundo, desenharem um círculo de silêncio em volta de qualquer artista que carregue na veia uma única gota de sangue. Foi o que aconteceu com Aldisio Filgueiras, com Narciso Lobo, talvez entre outros.
Porém foi o que aconteceu mais dramaticamente ainda com Simão Pessoa. Confesso que jamais ouvira falar de Porandubas, o próprio termo indígena, que significa notícia, aprendi-o em Sérgio Augusto. Mas como me impressionaram essas notícias poéticas, polêmicas e patéticas. Além de afirmar a contemporaneidade da nossa poesia, com um gesto rude ou com um grito selvagem, a pessoa do poeta mostra que as ideias são possíveis a 40º à sombra.
Pois não se espantem: o fato de Malarmé ter demonstrado a Degas que poesia não se faz com ideias, mas com palavras, tem servido de desculpa para alguns equivocados cometerem poemas no vazio absoluto. Ora, poesia se faz com palavras, mas também com ideias assentadas sobre seu próprio mundo e sobre o mundo da poesia. Simão Pessoa sabe disso. Não aceita tudo, com a ânsia do provinciano que pretende exibir falsa cultura. Tem coragem de riscar do mapa o cerebrino Mário de Andrade e soube, num salto tigrino (a expressão é de Benjamin), fazer a conexão entre uma consciência da problemática social e a técnica higiênica do poema concreto.
Quando tange sua lira em elegias à floresta agonizante, Simão Pessoa adota aquela poética dos concretistas, ensinado-nos que não pretende fazer discursos retóricos, mas poemas de uma essencialidade como o osso, crus e selvagens. É como se o poeta violentasse essa tradição bacharelesca de nossa poética que consegue dizer tudo, menos o que interessa e o que deseja dizer.
Há um personagem que passeia por quase todas as páginas do minúsculo livro de Simão, é o “ennui”, o tédio de Charles Baudelaire. Mas seu tédio não é transcendental, pois ele sabe “que só é possível filosofar em alemão”, seu tédio é uma denúncia contra o vazio dessa existenciazinha que se abate sobre uma comunidade que, por já ter perdido e renegado sua própria identidade, sabe-se incapaz de reagir contra o golpe dos alienígenas.
As Porandubas Poéticas, primeira parte do livro, revelam-se uma tentativa de atualização poética. O poeta, exibindo invejável mestria no uso da musicalidade canônica do verso e da plasticidade imagética, nos dá a notícia da defasagem daquela modorrenta temática do “âmago telúrico”, histeria ainda vigente em certas igrejas decadentes.
Vencido o desafio contra o descompasso temporal, Simão Pessoa parte para uma briga contra os cacoetes parnasianos que neurotizam uma certa poesia. Cria as Porandubas Polêmicas, onde já não se preocupa em mostrar que domina a técnica, inventa e desinventa, elimina alguns recursos tradicionais e mistura prosa e poesia, atualizando aquele dito de Schwitters segundo o qual, sendo um poeta, tudo o que produz é poesia, mesmo a prosa. Em seguida vem as Porandubas Patéticas, seção dedicada mais claramente ao combate social. Aqui o poeta não pretende apenas dar demonstrações do poder das palavras, mas, sobretudo, lançar uma palavra contra o poder.
Pescar exemplos de criatividade e da poeticidade de Porandubas é inútil e perigoso, quase todo o livro é brilhante, pois Simão Pessoa vive e convive com a poesia, sabe que não basta, num grande livro, um ou outro exemplar de inventividade e originalidade. Aliás, originalidade é um outro traço que distingue o autor em questão. Nessa história de imitação e diluição, o poeta em Pessoa até nos agride com tamanha independência: não imita ninguém, não pretende ser ninguém, senão a Pessoa do poeta.
Para Walter Benjamin, “sempre foi uma das tarefas essenciais da arte suscitar determinadas indagações num tempo ainda não maduro para que recebesse plena resposta”. Taí a explicação da incompreensão com que se olha o poeta Simão Pessoa.
Evidentemente, o artigo do Antonio Paulo Graça me deixou de ego inflado. Tinha sido a primeira vez que alguém se debruçara com seriedade sobre o meu trabalho e fazia uma crítica interessante.
Até então, apesar de já ter publicado seis livros de poesia e distribuído de mão em mão cerca de cinco mil exemplares, eu era mais conhecido no eixo Rio-São Paulo-Belo Horizonte do que aqui em Manaus. Nunca mais paramos de nos encontrar nos botecos para falar sobre as mesmas coisas.
Isaac Maciel, Paulinho, eu e Kádia Eneida durante uma cachaçada no Espaço Cultural Valer. De costas e de “rabo de cavalo”, o psiquiatra Rogelio Casado
O que aconteceu com Antonio Paulo Graça? Bem, há o público e o privado. Depois de concluir com êxito um mestrado e um doutorado em Literatura na UFRJ, publicar três livros (A razão selvagem, Catedral da impureza e Tango selvagem), deixar outros três prontos (Como funciona a poesia, Uma poética do genocídio e Manual de Literatura do Amazonas), escrever regularmente no Jornal do Brasil e n’O Globo e voltar a ser professor da Universidade do Amazonas, Paulinho era tratado com desprezo aqui na província. Achavam arrogância onde havia apenas discernimento.
Houve outros agravantes. Mesmo trabalhando como um mouro, Paulinho continuava sofrendo penosamente com uma permanente crise financeira. Ele nunca conseguiu assimilar como era possível um intelectual do seu porte enfrentar tão dura batalha pela sobrevivência enquanto semianalfabetos de todos os quadrantes viviam num fausto de verdadeiros marajás.
Paulinho buscava o mínimo, que é viver com dignidade à custa do próprio talento, mas até isso lhe foi negado.
Percebendo que jamais seria como os outros (o puxa-saquismo e a subserviência nunca fizeram parte do seu código de conduta), ele preferiu tirar o time de campo.
Em outras palavras, Paulinho optou, mais ou menos, pelo suicídio consciente, por meio da ingestão diária de álcool em quantidade industrial. Ele não conseguia mais se enquadrar dentro de um mundo em que o poder econômico dita as regras do jogo e que, em última análise, não tolera a insubmissão. Como também sofro isso na pele, sei exatamente pelo que ele passou e penou.
Difícil esquecer aquele homenzinho de voz rascante, óculos grandes com grossas lentes, um andar meio saltitante, a risada explodindo numa frase de efeito, um olhar inquieto e um ar de criança abandonada que inspirava sentimentos maternais permanentes no mulherio presente nas mesas de bar.
Quando sóbrio, era um veludo. Após alguns goles, podia atirar espinhos a torto e a direito. Com os amigos, ficava intolerante. Com os inimigos, ficava intolerável.
Tantos anos depois e a hora ainda é realmente de chorar pela brutalidade dessa ladroagem ilimitada que apressou a morte de Paulinho. E lamentar pela ausência do amigo leal e sempre solidário.
Sem contar essa imensa dor de nunca mais ouvir aquela voz insistente, sempre indagando, criticando, criando, produzindo, nos afagando a imaginação, nos excitando o intelecto e nos fazendo acreditar em um mundo melhor.
O nosso provincianismo ficou mais pobre e triste, quando eu pensava que nada mais era possível. Tudo é possível. Até que tenhamos tido um gênio raro como o de Antonio Paulo Graça e zelado tão mal por esse patrimônio.

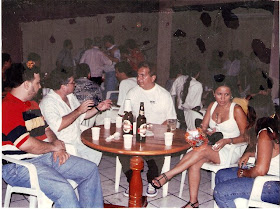
Nenhum comentário:
Postar um comentário