Por João Ubaldo Ribeiro
Quando eu era estudante em Salvador, tinha sempre um colega
ou professor especialista em histórias sobre Ruy Barbosa, a maior parte delas
com certeza inventada. Não pode ser verdadeira, por exemplo, a anedota segundo
a qual ele chegou a Londres e publicou um anúncio no Times: “Ensina-se inglês
aos ingleses”. Também não boto muita fé em que ele se distraía arrolando
dezenas de sinônimos para “chicote” ou “prostituta”, embora até hoje existam
muitos conterrâneos meus que se aborrecem com quem desmente essas e outras
alegações.
Mas há histórias sobre ele em que acredito. Uma delas,
aliás, nem o tem como protagonista, mas, sim, sua mulher. Dizem que, procurado
para dar um parecer ou realizar um trabalho qualquer, Ruy Barbosa, como
acontece com muitos intelectuais, não costumava puxar o assunto do pagamento. E
contam que, depois de ver o marido explorado com frequência, a mulher dele
chamava o visitante para uma conversinha, na saída. Perguntava se tinham
acertado alguma remuneração e, como a resposta era quase sempre negativa, ela,
delicadamente, pedia ao visitante que voltasse e combinasse um pagamento.
– O conselheiro come... – explicava ela.
Pois é, o conselheiro comia. E eu, apesar de não ser nem
conselheiro nem Águia de Haia, também como. Mas creio que há muita gente que
acha que escritores, de modo geral, não comem, nem precisam de dinheiro para
nada.
Como tudo mais, deve ser culpa da imprensa, que costuma
falar em escritores de best-sellers internacionais, os quais ganham dois
milhões de dólares por mês, papam nove entre cada dez estrelas de cinema e têm
vastas coleções de carros e relógios de luxo.
A verdade, ai de nós, é que a maior parte dos escritores,
não só aqui como no mundo todo, tem que se virar de várias formas para
conseguir viver modestamente.
Acho que foi o Paulo Francis que se queixou, já faz algum
tempo, do volume de trabalho de graça que aqui esperam dele. Agora me queixo
eu. O Brasil, me parece, é campeão nesse tipo de prática. As pessoas esperam
que o escritor trabalhe de graça o tempo todo e ficam grandemente ofendidas
quando ele se recusa.
Há poucos dias, um grupo de estudantes universitários passou
para mim a tarefa que lhes tinha sido incumbida pelo seu professor de
literatura brasileira e, como eu não concordei em fazer o trabalho por eles,
ficaram aborrecidíssimos e só faltaram xingar toda a minha árvore genealógica.
Para não falar que, mesmo que eu quisesse fazer o trabalho, não saberia
responder a perguntas do tipo “como caracterizar sua inserção no contexto da
literatura brasileira pós-moderna”.
As encomendas de trabalhos escolares aparecem mais ou menos
a cada mês. Já originais de livros para meu exame chegam todos os dias. A
impressão que tenho é que a maior parte dos autores deseja que eu largue tudo o
que estiver fazendo, leia sofregamente os originais, adore tudo, escreva um
prefácio arrebatado e edite o livro – após o que ele passará a ganhar dois
milhões de dólares por mês, a papar nove em cada dez estrelas de cinema e,
enfim, viver essa vidinha de escritor.
E, na verdade, a pessoa não quer uma opinião sincera, como
sempre alega. Quer, o que, aliás, é natural, receber a confirmação de seu
talento. Mas, se eu fosse ler todos os originais que me surgem, não faria outra
coisa na vida. Além disso, tenho muito pudor de dar opinião sobre o trabalho
alheio, não me acho qualificado. E fico sem graça e me sentindo culpado porque
não posso ler os originais. Não é justo, pois não posso mesmo, mas é o que
acontece.
Entrevista é outro trabalho de lascar. Parece-me que a
entrevista devia ser destinada a obter informações que ainda não tenham sido
tornadas públicas. Por exemplo, todo mundo que já ouviu falar de mim sabe que
eu sou baiano e moro no Rio. Contudo, a esmagadora maioria dos entrevistadores
começa perguntando onde nasci e se ainda moro em Itaparica. Uma repórter
iniciou sua entrevista perguntando se eu era escritor.
As perguntas são invariavelmente as mesmas e podiam ser
respondidas com uma olhada nos arquivos do jornal ou revista, mas eu tenho de
dar a entrevista e, novamente, trabalhar de graça. Não aguento mais contar que
livros publiquei, que gosto de escrever de manhã, que aprendi inglês quando era
menino, que nasci em Itaparica e passei a infância em Sergipe etc. etc. etc.
No caso da televisão costuma ser pior. Todo mundo que trabalha
em televisão, aqui neste país onde ela é das coisas mais importantes que
existem, se acha o máximo porque trabalha na televisão. A síndrome de Bozó, do
Chico Anysio, assume várias formas. Os seguranças tratam a gente como lixo,
devendo dar-se por felicíssima por ter a chance de aparecer na tevê. Para
trabalhar de graça, a gente tem de comparecer ao estúdio, identificar-se, botar
crachá, ficar esperando e obedecer ordens estranhas, tais como não olhar para a
pessoas com quem se está falando, mas para a câmera.
Uma vez me fecharam num cubículo durante um tempo
interminável e aí, amedrontado, fugi. De vez em quando, alguém fica indignado
porque uso óculos e dá reflexo, ou porque sou careca e também dá reflexo, quase
me obrigando a pedir desculpas por existir.
O interessante é que, se o camarada é amigo do dono do
armazém ou da quitanda, não lhe ocorre pedir para fazer a feira da semana de
graça. Afinal, trata-se de um negócio, sobrevive-se daquilo. O escritor e o
jornalista também sobrevivem de seu trabalho, mas parece que ninguém acredita
nisso. Volta e meia sou levado a crer, pelo jeito imperioso com que
frequentemente me intimam a trabalhar de graça, que acham que recebo um
estipêndio do governo para exercer essas funções.
Quando, certa feita, aceitei pagamento para escrever e
assinar um anúncio, caíram de pau em cima de mim e dos outros que toparam o
mesmo serviço, como se tivéssemos vendido nossas santas e puras almas ao diabo.
Sei que talvez fizesse muito melhor figura de escritor se vivesse bebum, esmolambado
e tomando uns trocados emprestados aqui e ali. Mas, infelizmente, me falta
vocação, devo ser um falso escritor, nem milionário nem miserável.
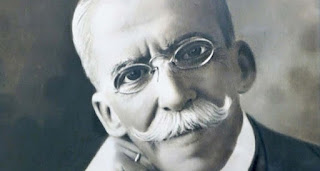



Nenhum comentário:
Postar um comentário