Fevereiro de 1982. Eu e Jones Cunha estávamos enfrentando os engenheiros Roberto Amazonas e Chico Costa em uma animada partida de dominó no Bar do Aristides, quando começou um grande alvoroço em um das mesas ao lado.
Olhei discretamente para ver do que se tratava.
O compositor Felipe Araripe, da ala dos compositores do bloco Andanças de Ciganos, estava apresentando para os presentes a sua nova namorada, simplesmente a recém-eleita Rainha do Carnaval amazonense.
Felipe estava em estado de graça porque a garota concordara em desfilar como madrinha da bateria do bloco.
Na hora em que eu ia sentar uma carroça de terno e complicar o jogo de vez, o casal se aproximou da nossa mesa.
Educadíssimo como sempre e todo pimpão, Felipe fez as honras da casa:
– Meus manos, eu queria apresentar pra vocês a nova Rainha do Carnaval amazonense, que esse ano vai desfilar pela primeira vez com a gente, como madrinha da nossa bateria!
Sem parar de me concentrar no jogo de dominó e nem ao menos olhar para o casal, devolvi a gentileza:
– Parabéns, Jeannie, você merece esse título mais do que ninguém! Como é que estão a Jane, a Janny, o James, o Jander e a dona Carol?...
Felipe levou um susto. A Rainha do Carnaval limitou-se a dizer que todo mundo estava muito bem, obrigado.
– Você já conhece o nosso poeta? – indagou um incrédulo Felipe.
– Conheço sim, mas de outros carnavais! – disse ela, rindo.
O casal se afastou de nossa mesa e foi executar a formalidade de apresentação para outros brincantes do bloco Andanças de Ciganos, que estavam chegando ao boteco.
Só então levantei a vista da mesa de dominó para conferir a qualidade da mercadoria.
O Felipe tinha razão em estar todo pimpão.
A Jeannie estava simplesmente exuberante.
Minha memória elíptica engatou uma marcha-a-ré.
A gente não devia ter nascido com memória ram.
Eu havia conhecido a nova Rainha do Carnaval em 1975, ou seja, sete anos antes.
Na época, ela era uma moleca de 14 anos.
Sua irmã mais velha, Jane, trabalhava comigo na Sharp do Brasil.
A Jane, uma blondie escultural, era secretária executiva do economista Silvestre Belo, gerente de Recursos Humanos da empresa, com quem, desconfio, mantinha um discreto relacionamento amoroso.
Em uma das “domingueiras” do Bancrévea, a Jane me apresentou para sua irmã caçula chamada Jeannie, que possuía cabelos negros, e para sua irmã do meio, Janny, outra blondie verdadeiramente escultural.
Os homens preferem as louras, diz um velho filme hollywoodiano.
Eu prefiro as morenas.
Além de dilacerantemente linda, com seu cabelo estilo “black power” e seu corpo esculpido por Fídias, a moreníssima Jeannie tinha umas mamonas assassinas de qualidade mundial.
Seus quadris tiravam qualquer um do sério.
Aquela bunda fenomenal deveria ser tombada como patrimônio cultural da humanidade.
Seu riso fantástico, com covinhas de beleza nos cantos dos lábios, também poderia ser considerado o melhor espetáculo da terra.
Aos 19 anos e com meia-dúzia de cubas-libres na cabeça, eu encarava qualquer parada.
Na primeira oportunidade, tirei a Jeannie pra dançar e a conduzi para o olho do furacão, que é como chamávamos a pista de dança oval do Bancrévea.
Acho que, naquele dia, a banda que estava tocando era “Os Embaixadores”, com José Chain no vocal principal cantando “Everybodys’ Talkin”.
Depois da segunda música (“You’ve Got A Friend”, salvo engano, ou “Mrs. Robinson”, o que é mais provável), nós dois estávamos irremediavelmente apaixonados.
A Jeannie beijava maravilhosamente bem e tentou me convencer de que eu era o seu primeiro namorado.
Nunca acreditei nessa lenda urbana.
Jeannie era um gênio.
Nas domingueiras seguintes, sempre no Bancrévea, a gente nem dançava mais.
Limitava-se a se “acochar” tão escandalosamente, em uma área a céu aberto na parte de cima do clube, que era comum os seguranças chegarem discretamente e darem um toque pra gente maneirar.
Mas como maneirar, tendo uma deusa grega daquelas em meus braços?
Eu normalmente usava calça Lee ou Levi’s sem nada embaixo, de modo que o bráulio só faltava arrebentar o flecho-éclair e sair gritando: “Cadê os gatos? Cadê os gatos?”, como numa repetição daquela conhecida anedota do ratinho bêbado.
A Jeannie, vindo pras domingueiras com saias e vestidos cada vez mais curtos, morria de rir.
Com seis meses de namoro, a gente já havia desenvolvido alguns jogos amorosos para não ser preciso ficar agoniados na pista de dança esfregando um plexo solar contra o outro, dispostos a se devorar.
Pelo contrário.
A gente passava as quatro, cinco horas de festa, namorando na área externa, a céu aberto, bebendo uma ou outra cuba-libre.
Por exemplo, eu dava um jeito de enfiar as mãos, discretamente, embaixo da barra de suas saias para adivinhar que calcinha ela estava usando.
Encostado na mureta, prendendo ela entre meus braços, tal qual um abraço de estivador, eu sussurrava em seu ouvido:
– Parece de renda, na cor vermelha...
Ela, morrendo de rir:
– Vai te foder, Simão! Isso é algodão, na cor amarela. Olha aqui!
Aí, levantava discretamente a barra da saia para eu conferir a mercadoria.
O bráulio só faltava morrer de desespero.
Sim, ele seria assassinado com aquelas lembranças assim que eu chegasse em casa.
No ano seguinte, em seu aniversário de 15 anos, eu não pude comparecer à fuzarca, mesmo estando escalado para dançar a valsa da meia-noite, porque tinha uma prova fuderosa na Utam – e perder a prova significaria perder um período de faculdade.
A viúva dona Carol, mãe da deusa, ficou possessa com a desfeita.
A Jeannie entendeu a presepada e não ficou aborrecida.
Alguns dias depois, lhe dei de presente uma bonita caixinha de música.
Era um casal de patinadores desfilando pelo espelho e que depois acabava se beijando no final da música “Danúbio Azul”.
A Jeannie cismou que aquilo era a nossa história.
Não discuti.
Jeannie era um gênio.
Eu morria de ciúmes dela.
Continuamos se encontrando e namorando nas “domingueiras” do Bancrévea até que um dia ela apareceu lá em casa, acompanhada de seus dois irmãos mais novos, James e Jander.
Era uma tarde de domingo.
Eu estava capotado no quarto, por conta de uma bebedeira homérica no Bar do Caxuxa, no dia anterior.
Nunca soube como ela descobriu o meu endereço.
– Tem uma moça te esperando aí na sala! – avisou minha mãe, dona Celeste, com um ar de quem não aceitaria contestação. “Ela me disse que você prometeu levá-la pro cinema. Levanta logo daí, toma um banho e vai cumprir o que você prometeu!”
Saí do quarto ainda meio grogue, tomei um banho, me vesti rapidamente e levei a Jeannie e os moleques ao cine Ypiranga, para a sessão das quatro.
Aquela situação estava ficando complicada.
Quando uma namorada conhece a sua mãe e as duas ficam amigas, você vai ser a bola da vez e se foder de verde-amarelo.
Minha mãe estava impressionada com a beleza clássica da Jeannie, com seus gestos delicados, com sua atitude resoluta em evitar que os irmãos mais novos roubassem os bonequinhos do Forte Apache que encimavam a mesinha de centro da sala e, sobretudo, com seu carinho respeitoso ao falar a meu respeito:
– Dona Celeste, eu vou me casar com o Simãozinho. Ele é estudioso, carinhoso, educado, trabalhador e vai ser um excelente pai dos meus filhos!
E ela falava essa merda toda exibindo o corpo sarado de uma formidável parideira em potencial.
Charles Darwin teria achado o máximo.
Claro que ninguém escuta uma merda dessas impunemente.
Minha mãe, que até então me tinha como um cafajeste absolutamente irresponsável, provavelmente achou que estava diante do terceiro segredo de Fátima.
Quando voltei do cinema, depois de ter despachado a Jeannie e meus cunhados de táxi, pago régia e previamente (eles moravam no centro, quero crer que na rua Dr. Machado), minha mãe veio discutir a nossa relação.
– Se eu souber que você fez mal a essa mocinha, eu vou te matar pessoalmente! – explicou dona Celeste, com sua habitual psicologia feminina. “Ela é muito direita pra você querer apenas usá-la e abusá-la...”
Nunca mais procurei a Jeannie.
Eu e mais alguns amigos havíamos acabado de alugar uma quitinete em Educandos para utilizar como motel.
Estava na cara que, na primeira oportunidade, eu levaria a Jeannie até o local e lhe “faria mal”, isto é, iria “usá-la e abusá-la” da melhor maneira possível.
Mas mãe é mãe.
Para evitar que a Jeannie fosse me procurar em casa, fui morar com o Jaques Castro no bairro da Glória.
Nunca mais coloquei os pés no Bancrévea.
E, na Sharp do Brasil, fugia da minha cunhada Jane como o diabo foge da cruz.
Não sei se a Jeannie sofreu tanto quanto eu, mas aquilo era para o seu próprio bem.
Ela estava com apenas 16 anos quando nasceram Marcelo e Marcel, meus filhos primogênitos e gêmeos.
O que a Jeannie poderia esperar de bom de um vagabundo do meu quilate?...
Sei lá, mas agora a gente estava em 1982 e, aparentemente, as feridas estavam devidamente cicatrizadas.
Qual o que?
Umas duas horas depois daquela aparição extemporânea no boteco, a Jeannie se aproximou de novo da minha mesa, trazendo o Felipe pela mão, e abriu o coração.
Ou melhor, vomitou a bílis acumulada há tanto tempo.
Abraçando o Felipe como se quisesse despertar as velhas cinzas do meu eterno ciúme, ela me apontou o dedo e vociferou:
– Meu amor, dá pra acreditar que eu fui apaixonada por um merda desses? Dá pra acreditar que eu quase me matei por causa de um merda desses? Dá pra acreditar que esse filho da puta quase fodeu a minha vida?...
E a Jeannie dizia aquilo com um aparente riso de escárnio.
Foi a única vez em que levantei a vista do jogo de dominó e a olhei nos olhos.
– Você não sabe da missa um terço, menina! – disparei.
E aí, plagiando o que o escritor Rubem Braga falou para sua ex-mulher Zora, quando ela se casou com o escritor Antônio Olinto, joguei a pá de cal:
– O que passou, passou! Você melhorou muito de namorado, mas piorou muito de estilo!
Felipe Araripe não entendeu porra nenhuma.
Ela, também, não.
Mas, felizmente, os dois foram embora.
Foi a última vez em que a vi e percebi que, no fundo, a Jeannie ainda me amava.
Não sei se os dois continuam juntos até hoje.
Acredito que não.
Jeannie era um gênio.
Gostaria muito de voltar a vê-la.












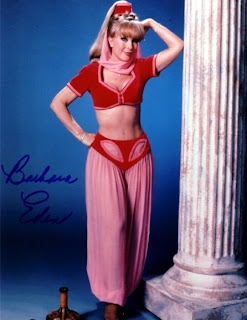
Um comentário:
esse cara é bom que história ,saldades do tempo da mamãe esse curtiu a vida a doidado.
Postar um comentário